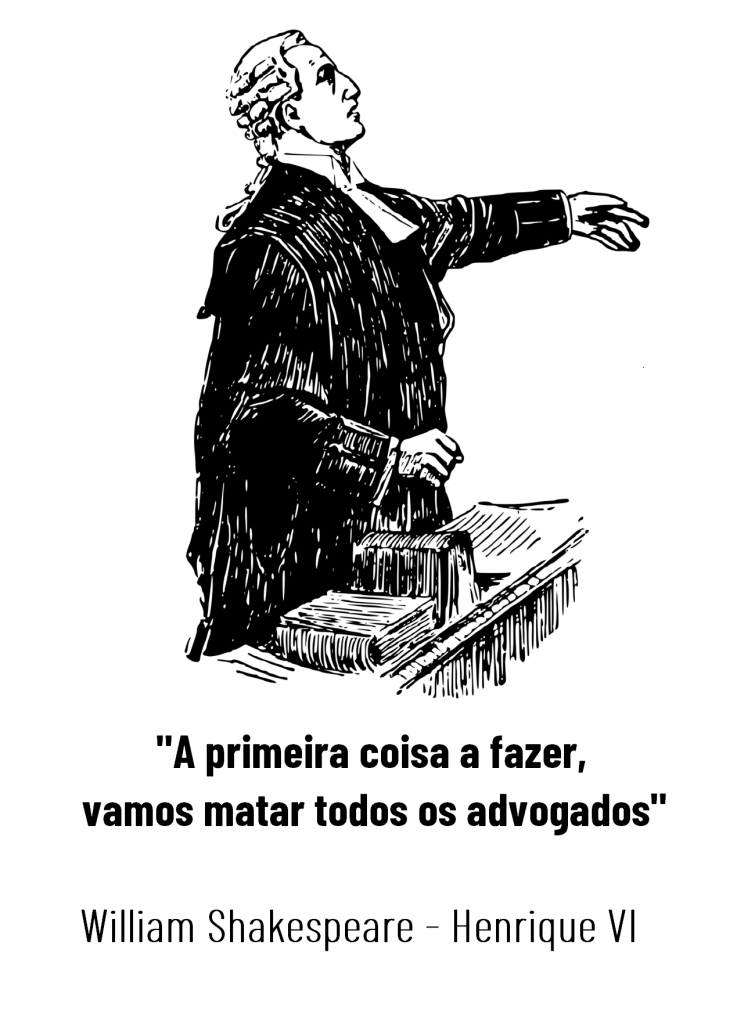A REAÇÃO BATE À PORTA
A REAÇÃO BATE À PORTA
Entramos com tudo em um tempo de reação. A década progressista dá lugar a uma onda de movimentos e governos de extrema direita ganhando espaço em todo o mundo. É difícil acreditar que existe alguma surpresa nisso. Como poderíamos nos surpreender com a eleição de Trump nos EUA e Bolsonaro no Brasil, “quando Putin, Berlusconi, Erdogan, Modi e Netanyahu têm reinado por anos no mesmo modelo1” na Rússia, Itália, Turquia, Índia e Israel?
Estados Unidos e Brasil são os retardatários em uma tendência mundial de governos de direita chegando ao poder democraticamente. Trump e Bolsonaro não são fascistas se usamos a palavra com rigor histórico e uma análise apurada de suas influências e características políticas. No entanto, ambos mobilizam emoções e ressentimentos comuns ao fascismo presentes em grande parte das camadas populares, e também das classe média branca e elites conservadoras que historicamente se beneficiam de privilégios desde a época da colonização e da escravidão institucionalizada nas Américas. Eles falam para os que se sentiram “esquecidos” pelas políticas sociais de programas de governo da última década, como o caso dos democratas de Obama nos EUA, e o PT de Lula e Dilma no Brasil. Portanto, entendemos os governos de Trump e Bolsonaro como populistas de extrema direita. Eles buscam aplicar reformas e ataques a direitos sociais conquistados para reinventar uma forma de governar “em nome do povo”. Sobretudo, são governos que se mantém a forma democrática, mas praticam a violência de Estado buscando promover a segurança, são, portanto, democracias securitárias.
“Estejam eles vindo de raízes ‘populares’ ou apenas apropriando seu estilo, esse grupo [de governantes] exuma aquela chamada aliança entre o soberano e seu ‘Povo’. Eles criam a aparência de um abismo no outro lado onde as elites buscam refúgio, espremidas juntas sob a obscura luz do ‘deep state’. Esse novos populistas ganharam corações com a promessa de salvaguardar tudo o que, em nome do povo, é idêntico a eles mesmos, a fim de fazê-lo se levantar, em uníssono, contra a ameaça das minorias étnicas, sexuais ou políticas – um gesto que muitas vezes parece se estender ao ponto de incluir, em um momento ou outro, quase todo mundo. Das entranhas destas massas que vagam longamente no deserto neoliberal, elas ressuscitam um novo Povo de ressentimento.”
– Liaisons, In The Name of The People
A VIOLÊNCIA NÃO ACABA, MAS É DIRECIONADA CONTRA AS MINORIAS
Nenhum estado democrático reprime ou elimina definitivamente as milícias ou grupos fascistas e racistas. No Brasil não foi diferente: em 1964 vivemos um golpe de estado com armas, tanques e disposição para matar, torturar e fazer sumir milhares de pessoas. Em 2018, vimos os herdeiros do aparato militar ditatorial, que foi para o crime organizado das milícias durante a era democrática, organizarem a vitória eleitoral de seu patrono. E Jair Bolsonaro não tem nenhuma vergonha em elogiar e estimular ações ilegais como a tortura e o extermínio, seja de suspeitos de cometer algum crime ou povos originários habitando uma terra que é sua desde muito antes. E é nessa área cinza entre o legítimo e o ilegítimo, entre a violência policial legalizada e a agressão criminosa de gangues e milícias, que o fascismo opera e cresce para, quando tomar o controle do Estado, poder usar sua força total através de grupos de extermínio, das polícias e das prisões e campos de concentração mantidos e expandidos nos períodos democráticos.

Bolsonaro – assim como Trump nos EUA ou Puttin na Rússia – não pretende acabar ou sequer diminuir a gigantesca violência necessária pra manter o Capitalismo neoliberal em sua fase decadente e de crise permanente. O que ele pretende é canalizar essa violência o máximo possível para as minorias políticas: as populações negras, LGBTTTIQ, mulheres, indígenas, imigrantes e pobres. A imagem do “cidadão de bem” que quer ser protegido pela liberação do porte de armas é a imagem do homem branco, de classe média ou alta e heterossexual, que diz querer defender sua família e seu patrimônio da criminalidade, mas se sente muito mais ameaçado politicamente pela ascensão de membros das classes subalternas, pela liberdade das mulheres e de pessoas não heterossexuais ou praticam sexo de forma dissidente. Os que mais se beneficiam diretamente da política de liberação de armas serão os mesmos ruralistas que já praticam torturas e assassinatos nos campos e as milícias que controlam bairros e municípios inteiros em cidades como o Rio de Janeiro. Para o senhor presidente, violência se combate com medidas que apenas aumentam a violência classista, racista e sexista no país.
Para canalizar essa violência contra as minorias, esses líderes precisaram deixar claro seu projeto para serem eleitos. Bolsonaro e Trump não foram eleitos apesar de serem abertamente sexistas, racistas, homofóbicos. Eles foram eleitos justamente porque são tudo isso. E não apenas o presidente, mas vários parlamentares foram eleitos pela mesma lógica. O candidato Rodrigo Amorim, quebrou a placa em homenagem à Marielle Franco em 2018, enquanto fazia campanha para ser deputado estadual no Rio de Janeiro. Amorim foi eleito como candidato mais votado. Depois de eleito, o deputado emoldurou e pendurou a placa quebrada em seu escritório e alega que estava “restaurando a ordem” quando a quebrou. Para seus eleitores, o fato dele afrontar publicamente a memória ou qualquer homenagem a uma mulher negra, lésbica, criada na favela e que foi assassinada por policiais, é apenas mais uma “demonstração de caráter” de seu candidato.
Quando analisamos esses perfis e suas ações, concluímos que de nada adianta acusar esses políticos de serem machistas, sexistas ou mesmo fascistas. Isso não fará com que percam apoiadores porque foram essas características que atraíram seus apoiadores. A melhor reposta que podemos dar é saber enfrentá-los mostrando que sua política é apenas mais do mesmo, que serão incapazes de melhorar a vida das pessoas dentro do neoliberalismo e entregarão às pessoas apenas mais frustração. Precisamos mostrar que eles são fracos e ainda mais limitados que a organização e solidariedade entre as pessoas.
SERIAM OS POLICIAIS NOSSOS ALIADOS? – E PORQUE POLÍCIA ANTIFASCISTA É UM CONTRASSENSO
Percebemos, assim, que vivemos em um tempo no qual ideias e emoções fascistas desfilam sem muito receio de se mostrar explicitamente, tentando ganhar propulsão com discursos canalizam o ódio contra as minorias. Por vezes, com novos nomes, como Alt-Rigth (Europa e EUA) ou bolsonarismo (Brasil), mas com as mesmas práticas de eliminação e extermínio das formas de vida que ele declara como insuportáveis e indignas de viver. Hoje, esse fascismo não apenas se serve da democracia, como aprendeu a se perpetuar com uma renovada retórica democrática associada ao desejo por segurança. Eles sabem que as instituições democráticas, ao fim, os favorecem.

Para ficar em um exemplo rápido (e cinematográfico) sobre como as instituições na democracia favorecem o fascismo, assistam o filme “In the fade”, de Fatih Akin, vencedor em Cannes de melhor filme estrangeiro em 2018. No filme, como na vida, a polícia e o tribunal ficam do lado dos neonazistas, sejam eles alemães do PEGIDA ou gregos do Aurora Dourada. Assim acontece qualquer gangue fascista ou neonazista sob o governo de um Estado em qualquer lugar do planeta. Fascismo e Estado democrático de direito não são, necessariamente, antagônicos. E hoje isso é uma verdade por demais evidente.
No Brasil, desde que o bolsonarismo tomou forma político-eleitoral e caminhou em direção à ocupação do governo do Estado por meio da democracia, a temática do antifascismo se espalhou por vários grupos sociais e indivíduos gerando imagens, memes em mídias sociais, camisetas, adesivos, declarações inflamadas etc. É com alegria que os anarquistas, dedicados à lutas antifascista desde sempre, veem isso. Mas essa alegria não abafa a desconfiança de que essa “onda antifa” em uma esquerda mais ampla, seja apenas isso: uma onda; ou pior, uma nova grife, uma identidade ou uma tática de frente única para conter os que são vistos como radicais.
Nesse sentido, é salutar recordar o alerta do coletivo catalão Josep Gardenyes em seu libelo “Uma Aposta para o Futuro” (Edição Subta, 2015, pp. 19-20), que diz o seguinte: “insistimos na ideia de que o antifascismo é – e tem sido desde os anos 1920 – uma estratégia da esquerda para controlar os movimentos e frear as lutas verdadeiramente anticapitalistas. Ele também sempre foi um fracasso se o pensarmos como uma luta contra o fascismo. As [históricas] estratégias propriamente anarquistas para combater o fascismo foram muito mais efetivas, porque entendiam o fascismo como uma ferramenta da burguesia – e nesse sentido, da democracia –, e dessa forma eles atacaram diretamente o fascismo não no ponto onde ele entrava em conflito com a democracia (direitos, liberdades civis, moderação), mas onde ele convergia com os interesses de proprietários e governantes. (…) O totalitarismo do sistema-mundo atual é uma tecnocracia (…) ele é totalmente compatível com a democracia e não tem nenhuma necessidade de carismas nem de aliança conscientes nem pactuadas entre classes, com seus protagonistas indispensáveis e atores proativos.” O alerta é, no mínimo, pertinente.

Não queremos com isso dizer que os anarquistas possuem o monopólio da luta antifascista, nem tampouco desprezar ou subestimar a atual onda neofascista e pertinentes reações que ela provoca em amplos setores da sociedade. O alerta provoca uma análise apurada em dois sentidos. Primeiro, é preciso compreender as formas do fascismo contemporâneo e como elas conseguiram equacionar sua presença nas democracias hoje, diluindo as lutas antifascismo no pluralismo democrático e neutralizando seu caráter antissistêmico. Segundo, que ao tomar o antifascismo como principal atividade, os anarquistas correm o risco de cerrar fileiras com aqueles que, mais cedo ou mais, se voltarão contra os anarquistas. Os exemplos históricos são inúmeros, não iremos repetir aqui. Como versa um velho jargão militante: mais importante do que saber contra quem lutamos é saber com quem lutamos. Ao que acrescentamos: mais importante que saber o que fazer, é saber como fazer. A nossa luta já é a vida anarquista em ação.
Mesmo admitindo que uma frente, o mais ampla possível, seja importante para se combater o neofascismo, causa, no mínimo, estranhamento que agora temos que presenciar fenômenos bizarros como o surgimento dos chamados “policiais antifascistas”. Segundo reportagem veiculada pela revista Época, o movimento surgiu em setembro de 2017, composto por policiais civis e militares e demais profissionais da área de segurança pública. Um de seus criadores, um investigador da polícia civil, diz que o Policiais Antifascismo “busca discutir novas políticas de segurança inserindo o policial no debate público — inclusive no que diz respeito aos seus direitos”. A mesma matéria, informa que o movimento conta “com 10 mil membros e representações nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.”2 O cerne das reivindicações do movimento é a crença de que pode haver uma polícia que respeite as liberdades civis e os direitos humanos e que os policiais devem ser vistos e se entenderem como trabalhadores, assim como o são diversos profissionais de outras áreas. Não duvidamos aqui das boas intensões das pessoas, mas não há um só motivo para acreditarmos nessa histórica instituição de opressão.
A polícia emerge, modernamente no século XIX, como um dispositivo de segurança destinado ao cuidado da população. Na antiga Prússia ela surge como medicina social; na França como instrumento das reformas urbanas como resposta às sedições dos trabalhadores; na Inglaterra aparece vinculada à medicina do trabalho e ao controle dos operários nas fábricas, além de sua faceta de proteção à propriedade do comércio marítimo. Na América do Norte, a polícia é herdeira direta das patrulhas de caça e captura de escravos fugitivos. Então, além de sua faceta repressiva contemporânea, a polícia é, desde seu início, um instrumento de governo voltado ao processos de normalização biopolíticos, como mostram as pesquisas de Michel Foucault e Jacques Donzelot. Sua forma ostensiva é mais recente e ao sul do equador foi acrescida de tecnologias de caça e controle coloniais e escravocratas. Nesse sentido, não é exagero dizer que sob qualquer regime político, a polícia é destacamento dos estados dedicado a manutenção da supremacia racial branca, do controle da classe trabalhadora, da imposição de desigualdade material e do patriarcado: todos os valores e requisitos necessários a um estado fascista. E hoje em dia, após o avanço do neoliberalismo desde os 1970, não apenas do Estado, mas de empresas de segurança privada e do desejo de cada cidadão que clama pelo morte do que lhe é insuportável, atuando como um cidadão-polícia.

Assim, quando uma das lideranças do movimento diz, na mesmo entrevista, que “o policial é um garantidor de direitos”, ele não está dizendo nada além da histórica função desse peculiar dispositivo de segurança. Ele segue, justificando a existência do grupo: “a própria palavra polícia significa ‘gestão da polis’. Ele [o policial] deve atuar na cidade garantindo direitos. Ele tem que entender que os direitos básicos de um cidadão são os direitos humanos e fundamentais: o direito à vida, à liberdade de expressão”. Essa declaração expõe, mesmo que involuntariamente, a vinculação da atividade policial com o dever de manter o cidadão e os grupos sociais atrelados ao Estado. Depreende-se disso que, na contingente e elástica atuação cotidiana, cada policial é um agente do golpe de Estado cotidiano que impede que se rompa o vínculo subjetivo, operado nas ditaduras e nas democracias, entre sujeito e governo de Estado. Basta reparar que em todas revoluções modernas, desde a Revolução Francesa e as Independências dos EUA e do Haiti, a única constante invariável é a permanência da polícia – ao lado das prisões, dos exércitos, dos tribunais, das fronteiras. É possível ser antifascista sendo operador de algum destes dispositivos?
“A polícia não é o oposto dos fascistas. Eles abusam, sequestram, prendem, deportam e assassinam mais pessoas de cor, mulheres e LGBTTTIQ todos os anos do que qualquer grupo fascistas. Eles trabalham mais para fazer avançar a agenda supremacista branca do que qualquer organização de extrema direita independente.”
– CrimethInc., What they can’t do with badges, they do witch torches.
Enquanto anarquistas, sempre tentamos deixar óbvio que o papel da polícia é impor e reforçar os desequilíbrios econômicos entre as classes, mantendo os pobres sob controle e o patriarcado e a supremacia branca operando como barreiras à igualdade no Capitalismo.
A violência policial não é um caso isolado, uma aberração local ou a característica de um determinado tipo de regime, mas um elemento fundamental para uma sociedade baseada nos direitos de propriedade privada e na autoridade centralizada do Estado. O papel da polícia é manter as desigualdades de classe, raça, gênero e nacionalidade. Eles vão garantir que as pessoas pobres continuem na pobreza, que as excluídas continuem na exclusão, e que as injustiçadas convivam com a injustiça.
Sendo assim, a polícia nunca será uma aliada porque ela é a maior inimiga de quem questiona a ordem imposta, de quem quer mudanças sociais, de quem quer uma vida sem as desigualdades criadas pelo Capitalismo e pelo Estado. Afinal, eles são os primeiros a aparecer para o conflito quando nos cansamos de apenas sofrer as misérias desse sistema e partimos para a ação.
UMA VIDA SEM FASCISMO É UMA VIDA SEM CAPITALISMO, SEM ESTADO E SEM POLÍCIA
“Nenhum governo do mundo combate o fascismo até suprimi-lo. Quando a burguesia vê que o poder lhe escapa das mãos, ela recorre ao fascismo para manter o poder de seus privilégios.”
– Buenaventura Durruti, em entrevista ao jornalista Van Passen, 1936
O papel da polícia e o das gangues fascistas não são conflitantes entre si, são complementares. Em 2011, a primeira demonstração pública em defesa das posições do então deputado Jair Bolsonaro foi organizada por skinheads neonazistas em São Paulo. Na época, Bolsonaro era apenas mais um membro desconhecido do parlamento, visto como uma piada, dando declarações racistas e homofóbicas para atrair atenção com polêmicas e escândalos. Dezenas de antifascistas compareceram para impedir que uma marcha neonazi conseguisse ainda mais atenção para Bolsonaro e a polícia ficou entre os dois grupos para impedir um confronto. Quando estamos em grande número, a polícia fica entre nós e os fascistas para “garantir a segurança de todos”. Mas quando somos minoria, os policiais deixam que os fascistas nos ataquem.



Normalmente, a polícia ataca, prende, tortura e mata com impunidade legal. Eles não existem para impedir o crime, mas para garantir que a impunidade para atos considerados criminosos continuem sendo monopólio de quem tem poder econômico e político nas mãos. Nas melhores hipóteses, suas limitações são meramente burocráticas: quando a prisão não é em flagrante e é impossível forjar as provas; ou quando é necessário um mandado judicial para desalojar violentamente um imóvel ocupado; ou então quando uma manifestação popular toma as ruas de forma radical e a violência necessária para contê-la é ilegal ou controversa demais para ser praticada de forma explícita pelas forças policiais. Nesses casos, a ação de bandos neonazistas é útil para fazer o trabalho sujo que a polícia não quer ou não pode fazer num determinado momento.
Uma outra utilidade para a ação fascista nas ruas é nos manter ocupados demais tentando evitar que as coisas fiquem “ainda piores” e para lutar contra o sistema em si. O mesmo acontece com políticos como Bolsonaro e Trump: seus escândalos e suas medidas absurdas nos obriga a estar sempre reagindo às suas agendas invés de seguir as nossas próprias. Isso faz parecer que tudo o que queremos é restaurar alguma “normalidade” perdida no sistema democrático. Passamos a ser apenas defensores da última versão menos absurda da vida sob Capitalismo. O que é sempre o risco de soarmos como reacionários enquanto a direita se apresenta como “os rebeldes antissistema”.
“…parece que ocorreu uma inversão: por um lado, os progressistas se voltam para o passado, querem evitar a “decadência” dos valores democráticos, e assumem uma posição reativa (que era desde o século XIX a posição dos conservadores clássicos, dos teóricos da decadência etc.). Por outro lado, os populistas de direita, isto é, os reacionários, se tornaram “progressistas” no sentido de que querem acelerar o tempo e adiantar o futuro – mas por isso são apocalípticos. Apocalípticos porque amigos do apocalipse, porque eles não têm pudor em acelerar o processo de devastação do meio ambiente, em aniquilar pessoas (ou simplesmente deixar morrer, como no caso italiano em que impediram que um barco de refugiados atracasse) e em transformar a sociedade em uma guerra de todos contra todos em que sobrevive o mais armado – e isso não é nenhum “retorno à Idade Média”, é o próprio ápice do desenvolvimento capitalista, cuja verdade não é nenhuma versão democrática e luminosa de sociedade, mas sim esse grande Nada destrutivo.”
– Felipe Catalani, A decisão fascista e o mito da regressão: o Brasil à luz do mundo e vice-versa
Se, depois de toda essa reflexão, alguém ainda acredita que se aliar a membros da polícia em alguma luta social revolucionária pode ser uma boa ideia, afirmamos que abrir as portas e confiar em agentes da repressão estatal que querem lutar contra o fascismo é expor nossos movimentos à infiltração e outros riscos extremos desnecessariamente. Após séculos de luta das classes trabalhadoras e excluídas sendo perseguidas, traídas, mortas e aterrorizadas por instituições como a polícia e o exército; e com a sombra de uma ditadura civil-militar ainda viva na memória, é difícil pensar que tais indivíduos possam ser confiáveis – ou que seus colegas o sejam. Deveríamos trazer para dentro de nossas reuniões, protestos e ações, as pessoas que convivem e compartilham o dia de trabalho com assassinos, torturadores e inimigos da liberdade? Se policiais acreditam que todos devem se opor ao fascismo ou a qualquer forma de opressão, seu caminho deve ser o mesmo de qualquer pessoa à frente de instituições repressivas ou exploradoras: desertar. Que abandonem seus cargos, seus salários, seus privilégios e expropriem o máximo de recursos e munições possíveis que devem estar em mãos revolucionárias – e mesmo assim, é possível que levemos anos ou décadas para sequer começar a dar alguma confiança a pessoas que abriram mão de toda decência humana para aceitar um salário em troca de perseguir, prender e matar.

A luta antifascista entre anarquistas é a recusa ao fascismo, mas também é a afirmação da vida. Não podemos e não queremos estar ao lado de quem opera dispositivos de governo. Nesse sentido NÃO somos todas antifascistas, se nos juntamos a uma instituição criada para impedir que as pessoas transformem sua opressão em revolta.
Por essas e outras, os anarquistas sempre tiveram claro que não existe luta antifascista no interior da instituições. Derrotar o fascismo significa obstruir sua virtualidade contida em qualquer Estado, em especial nas instituições que racionalizam e operam o extermínio: a polícia, o exército, as prisões e todo sistema de justiça criminal. Além disso, a história das lutas anarquistas nos informam que, em muitos casos, a luta antifascista é uma tática utilizada por liberais democratas e socialistas autoritários para conter a radicalidade do nosso anticapitalismo e de nosso antiestatismo inegociáveis. E aí chegamos a nosso ponto: somos todos, realmente, antifascistas? O que pensar de operadores das instituições de extermínio e do racismo de Estado que declaram adesão às lutas antifascistas em momentos de recrudescimento autoritário do regime político? Pensamos, especificamente, nos que se autointitulam policiais antifascistas. Ser antifascista é viver uma vida não-fascista. Como viver essa vida quando se é um agente do Estado armado e autorizado a matar? Como conceber isso? Especialmente num país como o Brasil, onde a polícia carrega toda herança escravocrata e está estruturada segundo os regimes autoritários no país durante o século XX?

Não precisamos nos aliar a mercenários armados, ensinados a obedecer sem questionar, com autorização legal para agredir e matar defendendo as desigualdades existentes em nossa sociedade. Podemos trabalhar em conjunto sob princípios de solidariedade e horizontalidade para atender às necessidades de nossas comunidades, resolver conflitos e nos defender mutuamente da violência autoritária – ou seja, da polícia, fascista ou antifascista. Não existe caminho para a liberdade que não seja através da liberdade aqui e agora. A única autonomia que construímos está nos nossos laços sociais e de solidariedade: se quisermos garantir nossa integridade física contra agressões, precisamos de redes de apoio mútuo capazes de se defender, precisamos construir autodefesa e autodeterminação, que é nossa forma de liberdade diante da abstrata e dependente ideia de segurança. Não queremos essa democracia securitária, queremos liberdade e autodeterminação: cada pessoa e comunidade agindo de acordo com sua consciência e responsabilidade coletivas, em vez da coerção inerente aos governos e aos agentes de segurança, pois estes são sempre externos aos conflitos e problemas que vida em sociedade inevitavelmente cria.
A luta antifascista deve ser aliada à luta pelo fim de todas as instituições estatais, principalmente as repressivas. Precisamos alimentar e expandir estruturas para tomada de decisão que promovam autonomia e, por fim, práticas de autodefesa que possam nos proteger daqueles que no futuro queiram se tornar nossos líderes, como nos ensinam os povos ameríndios em sua relação com as chefias. Da mesma forma que não existe luta contra opressão sem uma luta contra todo aparato policial e estatal, não existe espaço na luta antifascista para reformar uma economia capitalista, o Estado, sua polícia e suas prisões – e muito menos espaço para policiais em uma luta contra o fascismo. Se, como disse com razão um dos líderes do movimento de policiais supostamente antifascistas, a polícia é a gestão da polis, nós seremos ingovernáveis.

1 In The Name of The People, LIAISONS

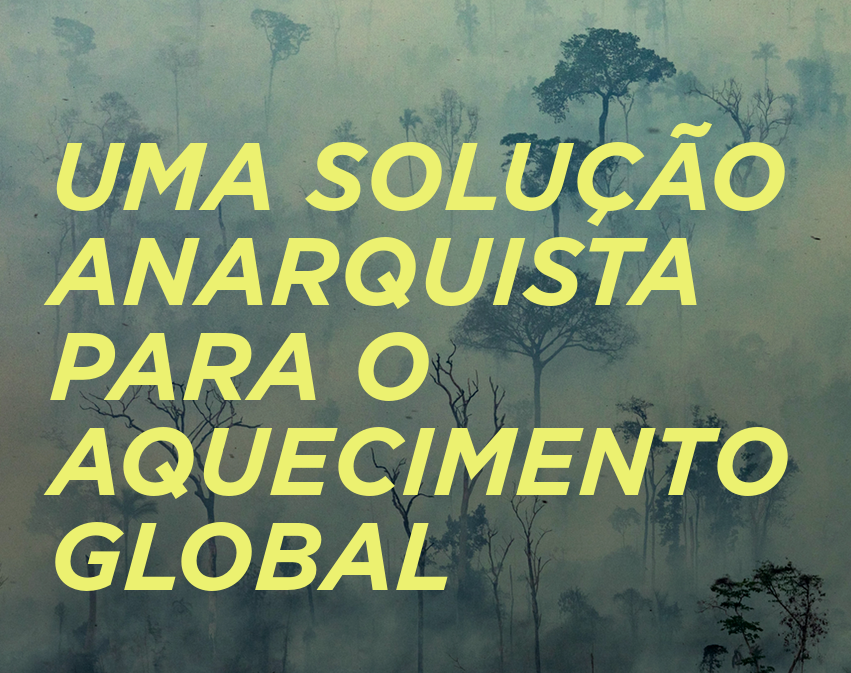



/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/6/p/1qHQtjT0SCtJQSuBMMpA/000-1ja4at.jpg)