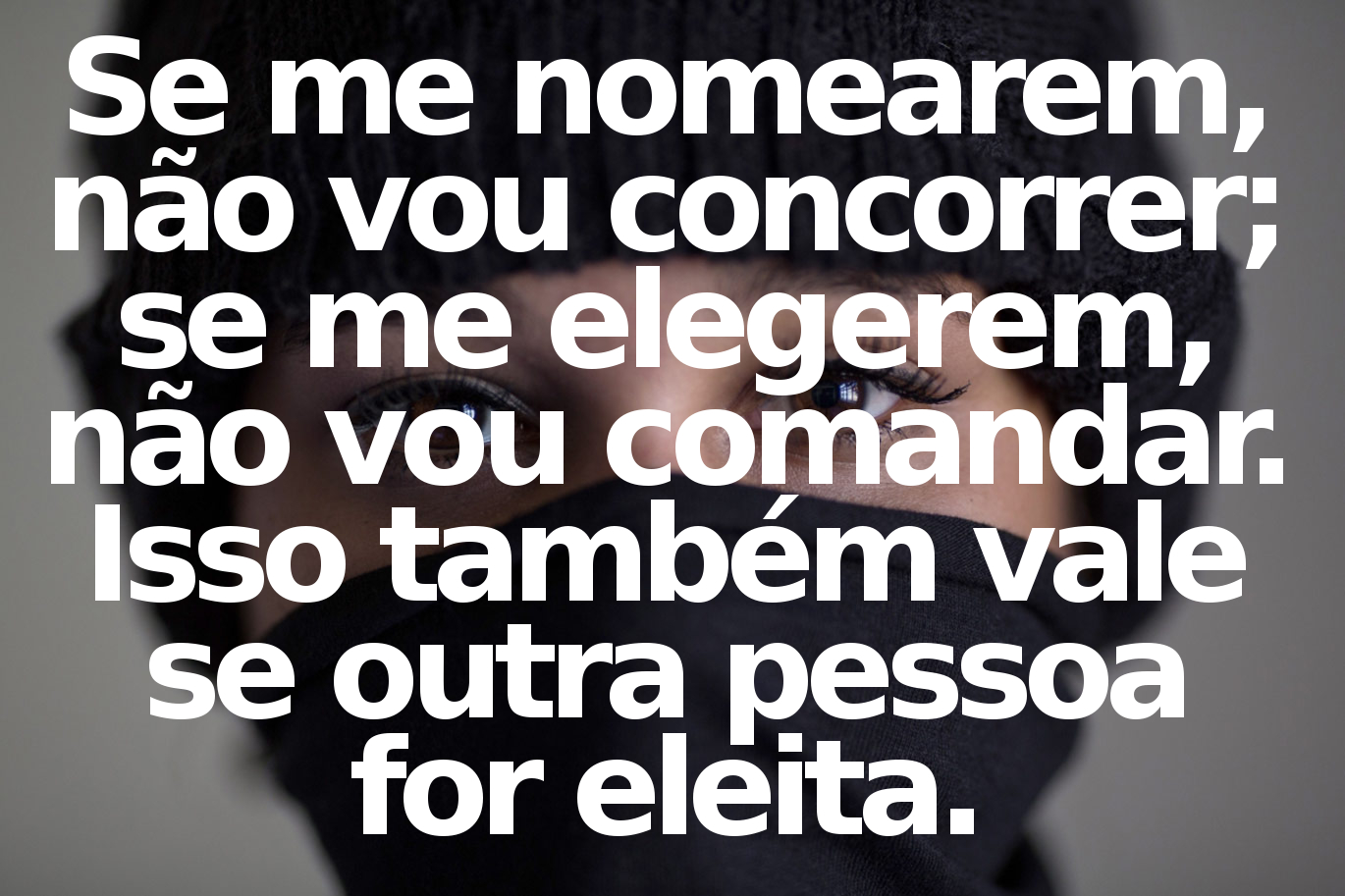NOTA: Esse texto faz parte de uma série e um debate internacional analisando a Democracia sob uma perspectiva anarquista. Para saber mais e participar, veja o primeiro artigo♥.
Os Excluídos: Raça, Gênero e Democracia
Frequentemente ouvimos argumentos pela democracia baseados em que, por ser a forma mais inclusiva de governo, ela seria a melhor opção para combater o racismo e o sexismo em nossa sociedade. Entretanto, enquanto categorias de governantes/governados e incluídos/excluídos estiverem dentro da estrutura da política, codificadas como “maiorias” e “minorias”, mesmo quando as minorias são em maior número que as maiorias, desequilíbrios de poder nas linhas de raça e gênero irão sempre aparecer como disparidades no poder político. É por isso que mulheres, a população negra, e outros grupos ainda carecem de influência política proporcional aos seus números, apesar de já possuírem o tão alardeado direito ao voto por um século ou mais.
“Nós não nos beneficiamos da democracia nos Estados Unidos. Nós apenas sofremos com a hipocrisia dos Estados Unidos.”
– Malcolm X, “The Ballot or the Bullet”
Em The Abolition of White Democracy (A Abolição da Democracia Branca) o falecido Joel Olson apresenta uma empolgante crítica do que ele chama de “democracia branca” — a concentração de poder político democrático nas mãos de brancos através de uma aliança interclasses entre aqueles que possuem privilégio de raça. Mas ele aceita sem questionar o fato de que a democracia é o sistema mais desejado, assumindo que a supremacia branca é um obstáculo incidental ao seu funcionamento ao invés de uma consequência natural dela. Se a democracia é a forma ideal das relações igualitárias, por que ela tem sido implicada em racismo estrutural durante praticamente toda a sua existência?
Onde a política é construída como uma competição de soma-zero, aqueles que detém o poder abominarão a ideia de compartilhá-lo com outros. Leve em consideração os homens que se opuseram ao sufrágio universal e as pessoas brancas que se opuseram à extensão do direito de voto às pessoas de cor: as estruturas da democracia não desencorajam o seu preconceito, mas lhes dão um incentivo para institucionalizá-lo.
Olson traça o caminho pelo qual a classe dominante nutriu a supremacia racial para dividir a classe trabalhadora, mas ele negligencia a forma como as estruturas democráticas se prestaram a esse processo. Ele argumenta que nós devemos promover a solidariedade de classes como uma resposta a estas divisões, mas (como Bakunin argumentou contra Marx) a diferença entre os que governam e os governados é ela mesma uma diferença de classe – pense na antiga Atenas. A exclusão baseada em raça sempre foi o outro lado da moeda da cidadania.
“Ao erigir uma sociedade escravagista, os Estados Unidos criou a base econômica para o seu grande experimento em democracia… A indispensável classe trabalhadora dos Estados Unidos existia como propriedade além do reino da política, deixando os norte-americanos brancos livres para alardear o seu amor pela liberdade e pelos valores democráticos.”
– Ta-Nehisi Coates, “The Case for Reparations”
Então a dimensão política da supremacia branca não é apenas uma consequência das disparidades raciais no poder econômico – ela também as produz. Divisões étnicas e raciais foram embutidas na nossa sociedade muito antes do surgimento do capitalismo; o confisco da propriedade de judeus durante a Inquisição financiou a colonização inicial das Américas, e a pilhagem das Américas e a escravização dos africanos providenciou o capital inicial para dar a partida no capitalismo na Europa e depois na América do Norte. É possível que as divisões raciais também possam sobreviver às próximas grandes mudanças econômicas e políticas – por exemplo, como assembleias compostas predominantemente por cidadãos brancos (ou judeus ou mesmo curdos).
Não existem soluções fáceis para este problema. Reformistas falam com frequência em tornar o nosso sistema político mais “democrático”, querendo dizer mais inclusivo e igualitário. Mas quando as suas reformas são realizadas de forma que legitimam e fortalecem as instituições do governo, isso só põe mais peso atrás dessas instituições quando elas atacam os perseguidos e marginalizados – veja o encarceramento em massa de pessoas negras desde o movimento pelos direitos civis. Malcolm X e outros defensores do separatismo negro tinham razão quando disseram que uma democracia fundada por brancos jamais poderia oferecer liberdade aos negros – não porque brancos e negros não possam coexistir, mas porque, ao transformar a política numa competição pelo poder político centralizado, a governança democrática cria conflitos que impedem a coexistência. Se os conflitos raciais de hoje pudessem ser resolvidos, seria através do estabelecimento de novas relações com base na descentralização, e não através da integração dos excluídos na ordem política dos incluídos1.
“Enquanto houver polícia, de quem você acha que ela vai abusar? Enquanto houver prisões, quem você acha que vai estar lá dentro? Enquanto houver pobreza, quem você pensa que serão os pobres? É ingenuidade acreditar que podemos alcançar a igualdade em uma sociedade baseada na hierarquia. Você pode embaralhar as cartas, mas ainda é o mesmo baralho.”
– Para Mudar Tudo
Enquanto nós entendermos o que estamos fazendo juntos politicamente como democracia – como o governo através de um processo de tomada de decisões legítimo – nós veremos essa legitimidade sendo invocada para justificar programas que são funcionalmente racistas, quer sejam políticas de um Estado ou decisões de um conselho. (Lembrem-se, por exemplo, das tensões entre os processos de tomada de decisões das assembleias gerais predominantemente brancas e dos acampamentos menos brancos dentro de muitos grupos do movimento Occupy). Somente quando nós dispensarmos a ideia de que qualquer processo político é inerentemente legítimo seremos capazes de nos despirmos do álibi final das disparidades raciais que sempre caracterizaram a governançademocrática. Isso nos dá uma nova perspectiva sobre as razões que levaram Lucy Parsons, Emma Goldman e outras mulheres a argumentar que a demanda pelo voto feminino estava errando o alvo. Por que alguém iria rejeitar a opção de participar na política eleitoral, imperfeita como é? A resposta mais curta é que elas queriam abolir o governo completamente, não torná-lo mais participativo. Mas ao olhar mais de perto, podemos encontrar algumas razões mais específicas pelas quais as pessoas preocupadas com a libertação das mulheres podem suspeitar da oferta.
“A história das atividades políticas dos homens prova que elas não lhes deram absolutamente nada que ele não poderia ter alcançado de forma mais direta, menos custosa e mais duradoura. A propósito, toda pequena conquista que ele teve foi através da luta constante, uma briga incansável pela autoafirmação, e não através do sufrágio. Não existe nenhuma razão para crer que a mulher, na sua escalada pela emancipação, foi ou será ajudada pelo voto.”
– Emma Goldman, “Women Suffrage”
Vamos voltar à polis e ao oikos – a cidade e o lar. Sistemas democráticos se baseiam em uma distinção formal entre as esferas pública e privada; a esfera pública é o local de todas tomadas de decisão legítimas, enquanto a esfera privada é excluída ou desacreditada. Em uma grande variedade de sociedades e eras, esta divisão foi profundamente baseada no gênero, com os homens dominando as esferas públicas – propriedade, trabalho assalariado, governo, chefia e locais públicos – enquanto as mulheres e outras pessoas fora do binarismo de gênero foram relegadas às esferas privadas: o lar, a cozinha, a família, criação dos filhos, trabalhadoras do sexo, cuidadoras e outras formas de trabalho invisível e não-remunerado.
Na medida em que os sistemas democráticos centralizam o poder e a autoridade para tomada de decisão na esfera pública, acabam reproduzindo os padrões patriarcais de poder. Isso é mais óbvio quando as mulheres são formalmente excluídas da política e do voto – mas mesmo quando não o são, elas frequentemente enfrentam obstáculos informais na esfera pública enquanto carregam responsabilidades desproporcionais na esfera privada.
A inclusão de mais participantes na esfera pública serve para legitimar ainda mais um espaço onde as mulheres e aquelas pessoas que não se conformam às normas de gênero operam em desvantagem. Se “democratização” significa uma mudança no poder de tomada de decisão de locais informais e privados para espaços políticos mais públicos, o resultado pode até mesmo desgastar algumas formas de poder feminino. Lembrem-se de como os abrigos para mulheres de iniciativa popular fundados na década de 1970 foram profissionalizados através de financiamento estatal a tal nível que, na década de 1990, as mulheres que os fundaram não estariam qualificadas nem para as vagas de emprego destinadas a iniciantes.
Assim, não podemos confiar no grau de participação formal feminina na esfera pública como um índice de libertação. Ao invés disso, podemos desconstruir a distinção baseada em gênero nas esferas pública e privada, validando aquilo que acontece nas relações, famílias, lares, vizinhanças, redes sociais e outros espaços que não são reconhecidos como parte da esfera política. Isso não significa formalizar estes espaços ou integrá-los em uma prática política supostamente neutra na questão de gênero, mas legitimar múltiplas maneiras de tomar decisões, reconhecendo os diversos locais de poder dentro da sociedade.
Existem duas formas de responder à dominação masculina na esfera política. A primeira é tentar tornar os espaços públicos formais o mais acessíveis e inclusivos possível – por exemplo, aceitando o registro de mulheres para votar, provendo creches, estabelecendo cotas de quem deve participar das decisões, avaliando quem deve ter permissão para falar nas discussões, ou até mesmo, como em Rojava, estabelecendo assembleias exclusivamente femininas com poder de veto. Esta estratégia busca implementar a igualdade, mas ainda pressupõe que todo poder deve ser investido na esfera pública. A alternativa é identificar locais e práticas de tomada de decisão que já empoderam as pessoas que não se beneficiam do privilégio masculino, e lhes dar maior influência. Esta abordagem aproxima-se de tradições feministas consagradas que priorizam as vidas e experiências das pessoas acima das estruturas e ideologias formais, reconhecendo a importância da diversidade e valorizando dimensões da vida que são geralmente invisíveis.
Essas duas abordagens podem somar-se e complementar uma à outra, mas somente se descartarmos a ideia de que toda legitimidade deve estar concentrada em um única estrutura institucional.
“De todas as ilusões modernas, o voto foi certamente o maior… O princípio de governo é em si errado: nenhuma pessoa tem o direito de governar outra.”– Lucy Parsons, “The Ballot Humbug“
Argumentos Contra a Autonomia
Existem diversas objeções à ideia de que as estruturas de tomada de decisão devam ser voluntárias ao invés de obrigatórias, descentralizadas ao invés de esculpidas em pedra. Nos dizem que sem um mecanismo central para resolver conflitos, a sociedade se degradará em guerra civil; que é impossível se defender contra agressores centralizados sem uma autoridade central; que nós precisamos do aparato de um governo central para lidar com a opressão e a injustiça.
Na verdade, é tão provável que a centralização de poder provoque conflitos quanto que os solucione. Quando todos têm que ganhar influência nas estruturas do Estado para obter controle sobre as condições de sua própria vida, isso está fadado a gerar atritos. Em Israel/Palestina, Índia/Paquistão e outros lugares onde pessoas de uma variedade de religiões e etnias coexistiram de maneira autônoma em relativa paz, a necessidade imposta pela colonização de disputar poder político dentro da estrutura de um Estado único produziu prolongada violência entre etnias. Tais conflitos também eram comuns na política estadunidense do século 19 – considere a briga de gangues que rodeava as eleições em Washington e Baltimore, ou a luta pelo Kansas Sangrento. Se essas disputas não são mais comuns nos E.U.A., isso não é prova de que o Estado tenha resolvido todos os conflitos que gerou.
O governo centralizado, propagandeado como uma forma de resolver disputas, apenas consolida o poder de forma que os vitoriosos possam manter a sua posição através da força das armas. E quando as estrutura centralizadas colapsam, como aconteceu com a Iugoslávia durante a sua introdução à democracia na década de 1990, as consequências podem ser muito sangrentas. Na melhor das hipóteses, a centralização apenas adia as brigas – como uma dívida acumulando juros.
Mas será que as redes descentralizadas têm alguma chance contra as estruturas de poder centralizado? Se elas não têm, então toda essa discussão é irrelevante, já que qualquer tentativa de experimentar com a descentralização será esmagada por rivais mais centralizados.
A resposta ainda está por vir, mas os poderes centralizados de hoje não estão de forma alguma seguros da sua invulnerabilidade. Já em 2001, a RAND Corporation estava argumentando que redes descentralizadas, no lugar das hierarquias centralizadas, serão os atores importantes do século XXI. Nas últimas duas décadas, desde o assim chamado movimento antiglobalização até o Occupy e a experiência curda de autonomia em Rojava, as iniciativas que obtiveram sucesso em abrir espaço para novos experimentos (tanto democráticos quanto anarquistas) foram descentralizadas, enquanto tentativas mais centralizadas, como o Syriza, foram cooptadas quase imediatamente. Diversos estudiosos estão agora teorizando as vantagens e as características distintivas da organização em rede.
 As vantagens da organização baseada em rede, descentralizada e autônoma sobre a democracia representativa e sobre a democracia direta baseada em assembleia.
As vantagens da organização baseada em rede, descentralizada e autônoma sobre a democracia representativa e sobre a democracia direta baseada em assembleia.
E finalmente, há a questão de se uma sociedade necessita de um aparato político centralizado para ser capaz de colocar um fim na opressão e na injustiça. O primeiro discurso inaugural de Abraham Lincoln, feito em 1861 na véspera da Guerra Civil, é uma das expressões mais fortes deste argumento:
“Claramente, a ideia central da secessão é a essência da anarquia. Uma maioria restringida por limitações constitucionais, e sempre capaz de mudar facilmente com cuidadosas mudanças dos sentimentos e opiniões públicas, é a única verdadeira soberania de um povo livre. Quem a rejeita o faz pela necessidade de migrar para a anarquia ou para o despotismo. A unanimidade é impossível. O governo da minoria, como um acordo permanente, é completamente inadmissível; tanto que, ao rejeitar o princípio da maioria, tudo que sobra é a anarquia ou o despotismo…
Fisicamente, nós não podemos nos separar. Não podemos separar nossas respectivas seções uns dos outros nem construir um muro impenetrável entre elas. Um marido e uma mulher podem se divorciar e afastarem-se um do outro, mas as diferentes partes de nosso país não podem fazer isso. Elas não podem senão ficar cara a cara, e a interação entre elas, seja amigável ou hostil, deve continuar. É possível então, tornar essa interação mais vantajosa ou mais satisfatória depois da separação do que era antes? Pessoas estranhas podem fazer tratados com mais facilidade do que amigos podem fazer leis? Podem os tratados serem mais policiados entre estranhos do que as leis entre amigos? Suponha que você vá para a guerra, você não pode lutar para sempre; e quando, depois de muita perda dos dois lados e nenhum ganho por nenhum, você pare de lutar, as mesmas velhas disputas estarão sobre vocês novamente.
Este país, com suas instituições, pertence às pessoas que nele habitam. Sempre que elas se cansarem do governo existente, elas podem exercer seu direito constitucional de alterá-lo ou o seu direito revolucionário de desmembrá-lo e derrubá-lo.”
Siga esta lógica o suficiente no mundo globalizado de hoje e você chegará na ideia de governo global: governo da maioria numa escala que abrange todo o planeta. Lincoln está certo, quando contraria os defensores do consenso, ao dizer que o governo unânime é impossível e que aqueles que não querem ser governados por maiorias devem escolher entre o despotismo e a anarquia. O seu argumento de que estranhos não podem fazer tratados mais facilmente do que amigos fazem leis soa convincente num primeiro momento. Mas amigos não impõem leis uns sobre os outros – leis são feitas para serem impostas sobre as partes mais fracas, enquanto tratados são feitos entre iguais. Governo não é algo que acontece entre amigos, não mais do que um povo livre precisa de soberano. Se tivermos que escolher entre despotismo, governo da maioria e anarquia, anarquia é o mais próximo da liberdade – aquilo que Lincoln chama de nosso “direito revolucionário” de derrubar governos.
Quando associou anarquia com a separação dos estados do sul dos EUA, Lincoln estava elaborando uma crítica da autonomia que ainda ecoa nos dias de hoje. Se não fosse pelo governo federal, diz o argumento, a escravidão nunca teria sido abolida, nem a segregação teria terminado e os direitos civis instaurados para as pessoas de cor. Essas medidas contra a injustiça tiveram que ser introduzidas à força pelos exércitos da União e, um século mais tarde, pela Guarda Nacional. Neste contexto, defender a descentralização parece significar aceitar a escravidão, a segregação e a Ku Klux Klan. Sem um corpo central de governo legítimo, qual mecanismo poderia impedir as pessoas de agirem de forma opressiva?
Existem vários erros aqui. O primeiro equívoco é óbvio: das três opções de Lincoln – despotismo, governo da maioria, e anarquia – os separatistas representavam o despotismo, não a anarquia. Da mesma maneira, é ingenuidade acreditar que o aparato do governo central será utilizado somente para defender a liberdade. A mesma Guarda Nacional que supervisionou a integração do sul, usou munição de verdade para conter a revolta dos negros por todo o país; hoje existem tantas pessoas negras nas prisões dos E.U.A. quanto haviam escravos antes. E, finalmente, não precisamos despejar toda a legitimidade em um único corpo de governo para poder agir contra a opressão. Ainda podemos agir – só devemos fazê-lo sem o pretexto de estar fazendo cumprir a lei.
Opor-se à centralização do poder e da legitimidade não significa retirar-se e ficar calado. Alguns conflitos devem ocorrer, não há como evitá-los. Eles surgem de diferenças verdadeiramente irreconciliáveis, e a imposição de uma falsa unidade apenas os adia. Em seu discurso inaugural, Lincoln estava pleiteando em nome do Estado a suspensão do conflito entre abolicionistas e defensores da escravidão – um conflito que era inevitável e necessário, que já havia sido adiado por décadas de tolerância inaceitável. Enquanto isso, abolicionistas como Nat Turner e John Brown foram capazes de agir decisivamente sem a necessidade de uma autoridade política central – na verdade, eles só foram capazes de agir assim pois não reconheciam tal autoridade. Se não fosse a pressão gerada por ações autônomas como as suas, o governo federal nunca teria intervindo no sul; e se mais pessoas tivessem tomado iniciativas como eles fizeram, a escravidão não teria sido possível e a Guerra Civil não teria sido necessária.
Em outras palavras, o problema não foi muita anarquia, mas muito pouca. Foi a ação autônoma que trouxe à tona o assunto da escravidão, não as deliberações democráticas. E mais, se houvessem mais defensores da anarquia, ao invés de do governo da maioria, não teria sido possível para os brancos do sul reconquistarem a supremacia política depois da Reconstrução.
Um outro fato merece ser mencionado. Depois de seu discurso inaugural, Lincoln se dirigiu a um comitê de homens de cor para defender que eles deviam emigrar para fundar outra colônia como a Libéria com esperança que os outros negros da América do Norte os seguissem. Relativo às relações entre negros emancipados e os cidadãos brancos estadunidenses, ele argumentou:
“É melhor para nós ficarmos separados… Existe uma falta de vontade por parte do nosso povo, por mais cruel que seja, de que vocês, pessoas de cor livres, fiquem conosco.”
Então, na cosmologia política de Lincoln, a polis dos cidadãos brancos não pode se separar, mas assim que os escravos negros do oikos não tiverem mais sua função econômica, é melhor eles irem embora. Isso deixa as coisas bem claras: a nação é indivisível, mas os excluídos são descartáveis. Se os escravos libertados depois da Guerra Civil tivessem emigrado para a África, eles teriam chegado bem a tempo de vivenciar os horrores da colonização europeia, com uma taxa de morte de dez milhões só no Congo Belga. A solução correta para tais catástrofes não é integrar o mundo todo em uma única república governada pela maioria, mas combater todas instituições que dividem as pessoas em maiorias e minorias – governantes e governados – por mais democráticas que possam ser.
Obstáculos Democráticos à Libertação
Exceto se houver guerra ou milagre, a legitimidade de todo governo constituído está sempre sendo corroída; ela só pode ser corroída. Não importa as promessas do Estado, nada pode compensar por termos que abrir mão do controle sobre nossas vidas. Toda reclamação específica ressalta este problema sistêmico.
E é aqui que entra a democracia: outra eleição, outro governo, outro ciclo de otimismo e decepção.
“A democracia é uma ótima forma de garantir a legitimidade do governo, quando ele faz um mau trabalho e não dá o que o povo quer. Em uma democracia em funcionamento, manifestações em massa desafiam os governantes. Mas não desafiam a natureza fundamental do sistema político do Estado.”
– Noah Feldman, “Tunisia’s Protests Are Different This Time”
Mas isso nem sempre pacifica a população. Na última década vimos movimentos e insurreições por todo o mundo – de Oaxaca a Túnis, de Istambul ao Rio de Janeiro, de Kiev a Hong Kong – nas quais os desiludidos e os descontentes tentam resolver os problemas eles mesmos. A maioria delas girou em torno do padrão de mais democracia e de melhor democracia, embora isso não tenha sido unanimidade.
Considerando quanto poder o mercado e o governo têm sobre nós, é tentador imaginar que nós poderíamos de alguma forma virar o jogo e governá-los. Mesmo aquelas pessoas que não acreditam que é possível para o povo governar o governo acabam governando a única coisa que lhes resta – a sua resistência a ele. Abordando os movimentos de protesto como experimentos em democracia direta, eles pretendem prever as estruturas de um mundo mais democrático.
Mas e se a democracia prefigurativa for parte do problema? Isso explicaria por que tão poucos desses movimentos foram capazes de montar uma oposição irreconciliável com as estruturas que pretendem opor. Com as discutíveis exceções de Chiapas e Rojava, todos eles foram derrotados (Occupy), reintegrados ao governo estabelecido (Syriza, Podemos) ou, pior ainda, derrubaram o governo sem atingir qualquer mudança verdadeira na sociedade (Tunísia, Egito, Líbia, Ucrânia).
Quando um movimento busca de legitimar na base dos mesmos princípios que a democracia estatal ele tenta vencer o Estado em seu próprio jogo. Mesmo que ele obtenha sucesso, a recompensa pela vitória é ser cooptado e institucionalizado – quer seja dentro das estruturas existentes do governo ou através de sua reinvenção. Portanto, movimentos que começam como revoltas contra o Estado acabam o recriando.
“Ocasionalmente você se rebela, mas é apenas para recomeçar a fazer a mesma coisa do zero.”
– Albert Libertad, “Voters: You Are the Real Criminals”
Isso pode terminar de duas maneiras diferentes. Há os movimentos que se tornam ineficientes ao alegarem que são mais democráticos, mais transparentes ou mais representativos que as autoridades; movimentos que chegam ao poder através da política eleitoral, somente para trair seus objetivos originais; movimentos que propõe táticas diretamente democráticas que acabam sendo igualmente úteis àqueles que buscam o poder estatal; e movimentos que derrubam governos, somente para substituí-los. Vamos analisar cada um deles.
Se limitarmos nossos movimentos ao que a maioria dos participantes conseguir concordar com de antemão, talvez não sejamos capazes nem de tirá-los do papel. Quando grande parte da população aceita a legitimidade do governo e suas leis, a maioria das pessoas acha que não tem o direito de fazer nada que desafie a estrutura de poder existente, não importa o quão mal ela os trate. Consequentemente, um movimento que toma suas decisões pelo voto da maioria ou pelo consenso pode ter dificuldade em concordar em utilizar táticas que não sejam puramente simbólicas. Você consegue imaginar os residentes de Ferguson, no Missouri tendo uma reunião para chegar a um consenso se eles incendeiam ou não a primeira loja de conveniência e lutam com a polícia? E ainda assim, foram essas as ações que deram início ao movimento que se tornou conhecido como Black Lives Matter (Vidas Negras Importam). As pessoas geralmente têm que experimentar uma coisa nova para se abrirem para ela; é um equívoco confinar um movimento inteiro ao que já é familiar à maioria dos participantes.
Na mesma lógica, se insistirmos que nossos movimentos devem ser completamente transparentes, isso significa deixar que as autoridades ditem quais tática nós podemos usar. Em condições de infiltração e vigilância bastante difundidas, conduzir todo processo de tomada de decisões em público com completa transparência é um convite a repressão a qualquer um que seja percebido como uma ameaça ao status quo. Quanto mais público e transparente for o mecanismo de tomada de decisão, mais conservadoras provavelmente serão as suas ações, mesmo quando isso contradiz a sua razão de ser – pense em todas coalizões ambientais que nunca tomaram uma única medida para parar as atividades que causam as mudanças climáticas. Dentro da lógica democrática, faz sentido exigir transparência do governo, já que supostamente ele deve representar e responder ao povo. Mas fora dessa lógica, ao invés de exigir que os participantes dos movimentos sociais representem e respondam uns aos outros, devemos procurar maximizar a autonomia com a qual eles podem agir.
Se nós alegarmos legitimidade baseada no fato de que nós representamos o público, nós oferecemos às autoridades uma maneira fácil de nos derrotar, enquanto pavimentamos o caminho para que outros cooptem os nossos esforços. Antes da introdução do sufrágio universal, era possível sustentar que um movimento representava a vontade do povo, mas hoje em dia uma eleição pode levar mais gente às urnas do que o mais massivo dos movimentos consegue mobilizar nas ruas. Os vencedores das eleições serão sempre capazes de alegar que representam mais pessoas do que as que participam dos movimentos2. Da mesma forma, os movimentos que se propõem a representar os setores mais oprimidos da sociedade podem ser vencidos ao serem incluídos como representantes simbólicos desses setores nas instituições de poder. Enquanto nós validarmos a ideia de representação, algum novo partido ou político poderá usar nossa retórica para subir ao poder. Nós não devemos alegar que representamos o povo – devemos afirmar que ninguém tem o direito de nos governar.
O que acontece quando um movimento chega ao poder através da política eleitoral? A vitória de Lula e de seu Partido dos Trabalhadores (PT) no Brasil parece apresentar o melhor exemplo possível em que um partido baseado na organização de base popular e radical assumiu o controle do Estado. Na época, o Brasil possuía alguns dos movimentos sociais mais poderosos do mundo, incluindo o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) que com 1,5 milhão de integrantes defende a bandeira da reforma agrária; muitos desses movimentos eram interconectados com o PT. Mas depois que Lula assumiu a presidência em 2002, os movimentos sociais entraram em um grande declínio que durou até 2013. Membros do PT largaram a organização local para assumir posições no governo, enquanto as necessidades da política pragmatista (realpolitik) preveniram Lula de dar concessões aos movimentos que ele apoiou anteriormente. O MST havia forçado o governo conservador que antecedeu Lula a legalizar muitas ocupações de terras, mas ele não obteve nenhum avanço sob o governo de Lula. Este padrão é recorrente por toda América Latina quando políticos supostamente radicais traíram os movimentos sociais que os elegeram. Hoje, os movimentos sociais mais poderosos no Brasil são os protestos de direita contra o Partido dos Trabalhadores. Não existem atalhos eleitorais para a liberdade.
E se ao invés de buscarmos o poder estatal, nós nos focarmos em promover modelos diretamente democráticos como assembleias de bairro? Infelizmente, essas práticas podem ser apropriadas para servirem a diversas agendas. Depois das revoltas na Eslovênia em 2012, enquanto as assembleias de bairro auto-organizadas continuaram a se encontrar em Ljubljana, uma ONG financiada pelas autoridades locais começou a organizar assembleias em um bairro “negligenciado” como um projeto piloto de “revitalização” da área, com a intenção explícita de trazer cidadãos descontentes de volta ao diálogo com o governo. Durante a revolução ucraniana de 2014, os partidos fascistas Svoboda e Right Sector ganharam importância através das assembleias democráticas na Maidan ocupada. Em 2009, membros do partido fascista grego Aurora Dourada juntaram-se à população local no bairro ateniense de Agios Panteleimonas para organizar uma assembleia que coordenou ataques a imigrantes e anarquistas. Se quisermos fomentar a inclusão e a autodeterminação, não basta propagar a retórica e os procedimentos da democracia participativa3. Precisamos difundir um contexto que se oponha ao Estado e a outras formas de poder hierárquico.
Até mesmo estratégias explicitamente revolucionárias podem ser revertidas para favorecer os poderes mundiais em nome da democracia. Da Venezuela à Macedônia, vimos que agentes do governo e interesses disfarçados canalizam a genuína dissidência popular em movimentos sociais artificiais com o objetivo de encurtar o ciclo eleitoral. Geralmente, o objetivo é forçar o partido governante a renunciar para que seja substituído por um governo mais “democrático” — ou seja, um governo mais simpático aos objetivos dos Estados Unidos ou da União Europeia. Tais movimentos geralmente se focam na “corrupção”, sugerindo que o sistema funcionaria direito se as pessoas certas estivessem no poder. Quando vamos às ruas, para não correr o risco de nos tornarmos marionetes de alguma iniciativa da política estrangeira, não devemos nos mobilizar contra qualquer governo em particular, mas contra a ideia de governo em si.
A revolução no Egito ilustra dramaticamente o beco sem saída da revolução democrática. Depois de centenas de pessoas perderem suas vidas para derrubar o ditador Hosni Mubarak e instituir a democracia, as eleições populares trouxeram outro autocrata ao poder, Mohamed Morsi. Um ano depois, em 2013, nada havia melhorado, e as pessoas que haviam iniciado a revolução foram às ruas mais uma vez para rejeitar os resultados da democracia, forçando o exército egípcio a depor Morsi. Agora, o exército continua sendo quem governa o país de fato, e a mesma opressão e injustiça que inspirou duas revoluções continua. As opções representadas pelos militares, por Morsi e pelas população rebelada são as mesmas que Lincoln descreveu em seu discurso inaugural: tirania, governo da maioria e anarquia.
Aqui, na fronteira das lutas contra a pobreza e a opressão, nós sempre nos levantamos contra o Estado em si. Enquanto aceitarmos que nos governem, o Estado irá ficar alternando entre a tirania e o governo da maioria conforme necessário — duas expressões do mesmo princípio. O Estado pode assumir muitas formas; como a vegetação, ele pode morrer, para crescer novamente a partir de suas raízes. Ele pode assumir a forma de uma monarquia ou da democracia parlamentar, de uma ditadura revolucionária ou de um conselho provisório; quando as autoridades tiverem fugido e o exército tiver se amotinado, o Estado pode permanecer como um germe transmitido por defensores da ordem e do protocolo em uma assembleia geral aparentemente horizontal. Todas estas formas, por mais democráticas que sejam, podem se regenerar em um regime capaz de esmagar a liberdade e a autodeterminação.
A única maneira garantida de evitarmos a cooptação, a manipulação e o oportunismo é nos recusando a legitimizar qualquer forma de governo. Quando as pessoas solucionam seus problemas e suprem suas necessidades diretamente através de estruturas flexíveis, horizontais e descentralizadas, não existem líderes a ser corrompidos, nem estruturas formais que possam ser calcificadas, nem um processo único que possa ser sequestrado. Livre-se das concentrações de poder e aqueles que almejam o poder para si não poderão se apropriar da sociedade. Um povo ingovernável provavelmente terá que se defender de aspirantes a tiranos, mas nunca verá sua força sendo utilizada pelos esforços deles para governar.
Fim da terceira parte.
1. Nessa questão podemos concordar com Booker T. Washington, quando ele disse: “O experimento Reconstrução na democracia racial falhou porque começou no ponto errado, enfatizando meios políticos e decretos de direitos civis em vez de meios económicos e auto-determinação. “
2. No final de maio de 1968, o anúncio de eleições antecipadas quebrou a onda de greves e ocupações que varreram a França; o espetáculo da maioria dos cidadãos franceses que votando no partido do presidente de Gaulle foi suficiente para dissipar toda a esperança de revolução. Isso ilustra como as eleições servem como um espetáculo que representa os cidadãos uns perante os outros enquanto participantes no sistema dominante.
3. Como as crises econômicas crescem junto com a descrença na política de representativa, vemos os governos oferecem participação mais direta na tomada de decisões para pacificar o público. Assim como as ditaduras na Grécia, Espanha, Brasil e Chile foram forçados a transição para governos democráticos para neutralizar os movimentos de oposição, o Estado está abrindo novos papéis para aqueles que de outra forma poderiam liderar a oposição a ele. Se somos diretamente responsáveis por fazer o sistema político funcionar, vamos culpar a nós mesmos quando ele falhar, não o sistema em si. Isto explica as novas experiências com orçamentos “participativos” de Porto Alegre para Poznań. Na prática, os participantes raramente têm qualquer influência sobre os gestores da cidade; no máximo, eles podem atuar como consultores, ou votar em um mísero 0,1% dos fundos da cidade. O propósito real do orçamento participativo é redirecionar a atenção popular a partir das falhas do governo para o projeto de torná-lo mais democrático.