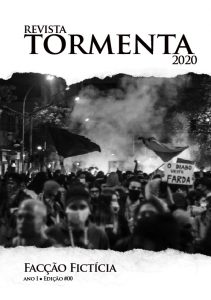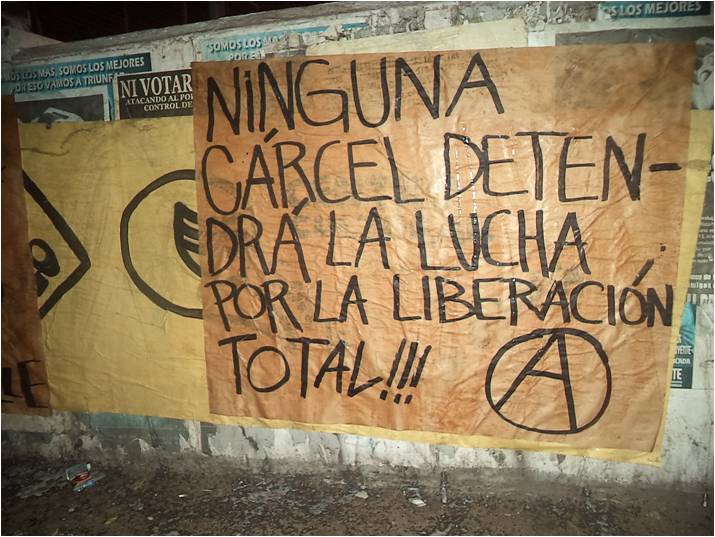Nesse artigo, o anarquista e pesquisador Uri Gordon analisa os usos da palavra democracia e a aproximação do discurso democrático, como estratégia de alguns anarquismos contemporâneos. O texto enfatiza as diferenças entre as práticas libertárias e as democráticas – enquanto governo representativo – e os diferentes significados de palavras comuns a ambos, como liberdade e igualdade. Leia os artigos da coleção de críticas anarquistas à democracia clicando aqui.

Como a maioria dos conceitos políticos, democracia é uma noção “essencialmente contestável” — seu significado é, em si próprio, um campo de batalhas. O que as ideologias políticas fazem, como práticas vulgarizadoras de expressão política, é “desproblematizar” ou fixar o significado desses conceitos, situando-os em relações específicas. O termo “igualdade”, por exemplo, pode significar equitativo acesso às vantagens (liberalismo), equitativa responsabilidade para com a comunidade nacional (fascismo), ou equitativo poder em uma sociedade sem classes (anarquismo). Nessa leitura, não há como objetivamente determinar o significado desses conceitos — o que existe são usos distintos, cada um deles regularmente agrupado com outros conceitos, em uma ou outra enunciação ideológica.
Gostaria, portanto, de suspender a discussão a respeito da compreensão conceitual “apropriada” de democracia e, em vez disso, questionar as escolhas estratégicas do emprego desse termo. Vale a pena, para anarquistas, ressignificar “democracia” de modo a apontar para a eliminação do Estado e das formas de dominação? Indica-se dois argumentos. O primeiro é que as invocações anarquistas de democracia são um fenômeno relativamente novo e tipicamente estadunidense. O segundo é que essa invocação é problemática, porque sua estrutura retórica e a segmentação por públicos-alvo quase inevitavelmente terminam recorrendo a sentimentos patrióticos e mitos da origem nacional.
Até a mais democrática das democracias…
Historicamente, “democracia” não é uma palavra que anarquistas costumaram usar em referência a suas próprias perspectivas e práticas. Uma pesquisa nos escritos de proeminentes ativistas e teóricos anarquistas do século XIX e início do século XX revela que, nas raras ocasiões em que empregaram esse termo, ele foi usado em seu sentido convencional, estatista, para se referir às instituições democráticas e aos direitos efetivamente existentes no Estado burguês. Democracia significava governo representativo, como oposto à monarquia ou à oligarquia.
Pierre-Joseph Proudhon claramente viu a democracia nesses termos. No capítulo 1 de O que é a Propriedade, publicado em 1840, Proudhon escreveu:
“O povo, tanto tempo vítima do egoísmo monárquico, julgou libertar-se definitivamente ao declarar que só ele era soberano. Mas o que era a monarquia? A soberania de um homem. O que é a democracia? A soberania do povo ou, melhor dizendo, da maioria nacional. (…) mas afinal não há revolução no governo visto que o princípio continua a ser o mesmo. Ora, hoje mesmo temos a prova de que não se pode ser livre na mais perfeita democracia”[1].
A questão para Proudhon é a soberania em si, e não quem ou o que a legitima. No capítulo 7 de A Filosofia da Miséria, livro de 1847, Proudhon também objeta qualquer “sistema de autoridade, seja qual for sua origem, monárquica ou democrática”[2]. Em nenhum momento Proudhon faz distinções entre uma “real” e uma “assim chamada” democracia; o termo simplesmente se refere ao governo exercido por meio da representação política.
Essa abordagem atravessa a tradição anarquista. Em 1873, no livro Estatismo e Anarquia, Mikhail Bakunin ataca os marxistas afirmando que “por governo popular (…) entendem o governo do povo por meio de um pequeno número de representantes eleitos pelo povo (…) uma mentira que esconde o despotismo da minoria dirigente, mentira ainda mais perigosa por ser apresentada como a expressão da pretensa vontade popular”[3]. Alexander Berkman ressoou uma crítica semelhante no periódico Mother Earth, de outubro de 1917:
“A democrática autoridade do governo da maioria é o último pilar da tirania. O último, e o mais forte (…) o despotismo que é invisível porque não é personificado, poda a paixão de Sansão e o deixa sem vontade. Ai do povo onde o cidadão é um soberano cujo poder está nas mãos de seus mestres! É uma nação de escravos solícitos”[4].
E, finalmente, Errico Malatesta, em texto de 1924, também trata a “democracia” apenas em termos de um sistema de governo:
“Até mesmo na mais democrática das democracias, é sempre uma pequena minoria que domina e que impõe pela força a sua vontade e os seus interesses. (…) Assim, desejar realmente o ‘governo do povo’ no sentido em que cada um possa fazer valer sua própria vontade, suas próprias ideias, suas próprias necessidades, é fazer com que ninguém, maioria ou minoria, possa dominar os outros; dito de outra forma, é querer necessariamente a abolição do governo, isto é, de toda organização coercitiva, para substituí-la pela livre organização daqueles que têm interesses e objetivos comuns”[5].
Em todos esses casos, não há tentativa de alinhar o anarquismo à democracia, ou de construir esta última em quaisquer outros termos que não aqueles das instituições democráticas convencionais. A associação entre anarquismo e democracia vai aparecer somente por volta dos anos 1980, nos escritos do estadunidense Murray Bookchin.
A negação de Bookchin ao anarquismo no final de sua vida é irrelevante aqui, pois, desde o fim dos anos 1970, suas considerações sobre a democracia permaneceram consistentes, quando eram formuladas em termos de uma estratégia recomendada aos anarquistas. Ecoando a crítica de Martin Buber acerca da expansão do “princípio político” de poder descendente e da autoridade centralizada à custa do “princípio social” de relações horizontais e espontâneas[6], Bookchin vê como única via promissora para a resistência a “descoberta da comunidade, da autonomia, de uma relativa autossuficiência, autoconfiança e democracia direta” em nível local que, fomentada “pela sua própria lógica, se encontrem em oposição explícita às crescentemente invasoras instituições políticas”[7]. Essa visão é claramente de um localismo anarquista, baseado em “assembleias populares livres”, “coletivização dos recursos”, e delegação de funções limitadas a temas de coordenação administrativa. Entretanto, a questão permanece: deve ser esse arranjo promovido pela linguagem da democracia (tanto direta quanto participativa)? Qual é o apelo dessa linguagem, em primeiro lugar?
Vendendo o Anarquismo como Democracia
Colocado de forma bem direta, a associação do anarquismo com a democracia é uma manobra retórica de duas vias que visa aumentar a atração de públicos mainstream pelo anarquismo. O primeiro componente dessa manobra é carregar nas conotações positivas que a democracia contém no discurso político estabelecido. Em vez da imagem negativa (e falsa) do anarquismo como algo estúpido e caótico, reforça-se uma imagem positiva que pega carona na “democracia” como um termo amplamente aprovado na mídia de massa, no sistema educacional, e no discurso do dia a dia. A aprovação aqui não é a de um conjunto específico de instituições ou procedimentos de tomada de decisão, mas a da associação da democracia com liberdade, igualdade e solidariedade — a dos sentimentos que entram em ação quando a democracia é posta em oposição binária à ditadura, sendo celebrada como o que distingue os “países livres”, no Ocidente, dos outros regimes.
Já o segundo componente dessa manobra é subversivo: ele procura retratar as sociedades capitalistas atuais como não sendo democráticas de fato, uma vez que elas alienam o poder da tomada de decisão do povo para colocá-lo nas mãos da elite. Isso equivale a um argumento de que as instituições e procedimentos que o público mainstream associa à democracia — governo por representação — não são, de fato, democráticos, ou são, no máximo, a realização muito limitada e estanque dos valores que eles dizem incorporar. A verdadeira democracia, nesse sentido, só poderia ser local, direta, participativa e deliberativa, sendo viável, em última estância, em uma sociedade sem Estado e sem classes. O objetivo retórico dessa manobra, como um todo, é gerar no público um sentimento de indignação por ter sido enganado: enquanto o apego emocional à “democracia” é confirmado, a crença de que ela realmente existe é negada.
Há dois problemas com essa manobra, um conceitual e outro mais substancial. O problema conceitual é que ela introduz uma noção verdadeiramente idiossincrática de democracia, tão ambiciosa a ponto de desqualificar quase todas as experiências políticas que se enquadrem em um entendimento comum desse termo — incluindo todos os sistemas eleitorais nos quais os representantes não têm um mandato estrito e não são imediatamente revogados. Ao reivindicar que os regimes “democráticos” atuais não são de fato democráticos, e que a única democracia digna desse nome é uma versão de sociedade anarquista, os anarquistas estão pedindo para o povo reconfigurar seu entendimento da democracia de uma forma bastante extrema. Embora seja possível manter esse novo uso com coerência lógica, ele é tão rarefeito e contrário ao uso comum que seu potencial como pivô para a opinião pública é altamente questionável.

O segundo problema é mais grave. Ao mesmo tempo em que a associação com a democracia pode buscar apelo apenas em suas conotações igualitárias e libertárias, ela também enreda o anarquismo com a natureza patriótica do orgulho na democracia, que ele próprio subverte. O apelo não é simplesmente o de um desenho abstrato para as instituições participativas, mas de instituições participativas recuperadas da tradição revolucionária estadunidense. Bookchin é bem explícito quanto a isso quando convida os anarquistas a “começarem a falar no vocabulário das revoluções democráticas”[8] ao passo em que desenterrariam e ampliariam seu conteúdo libertário:
“Esse passado burguês [americano] tem características libertárias: as town meetings [assembleias municipais] da Nova Inglaterra. Controle municipal e local, o mito americano de que quanto menos governo, melhor, a crença americana na independência e no individualismo. Todas essas coisas são antiéticas para uma economia cibernética, uma economia corporativa e um sistema político altamente centralizado (…). Eu sou a favor da democratização da república e da radicalização da democracia, e de que isso seja feito no nível da base: o que envolverá o estabelecimento de instituições libertárias que sejam totalmente consistentes com a tradição americana. Não podemos voltar à Revolução Russa ou Espanhola. Essas revoluções são alheias ao povo norte-americano”[9].
As formulações de Cindy Milstein em seu artigo “Democracia é Direta” funcionam explicitamente no sentido de preencher esse programa, procurando argumentar a partir dos mitos de origem estadunidenses:
“Dado que os Estados Unidos são mantidos como um pináculo da democracia, parece particularmente apropriado voltar às tensões de uma democracia radicalizada que lutou tão valentemente e perdeu tão esmagadoramente na Revolução Americana. Precisamos nos dedicar a essa projeto inacabado (…). Como todas as grandes revoluções modernas, a Revolução Americana gerou uma política baseada em ‘assembleias cara a cara’ confederadas dentro e entre cidades (…). Aquelas de nós que vivem nos Estados Unidos herdaram esse autoaprendizado em democracia direta, ainda que apenas em ecos vagos (…) [são] valores arraigados que muitos ainda consideram: independência, iniciativa, liberdade, igualdade. Eles continuam a criar uma tensão muito real entre autogestão de base e representação de cima para baixo”[10].
O apelo ao consenso de que a política estadunidense foi fundada em uma revolução popular e democrática, genuinamente animada pela liberdade e igualdade, está destinado a atingir sentimentos patrióticos existentes, mesmo quando enfatiza suas consequências subversivas. Milstein até invoca o Discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln quando critica as agendas reformistas que “trabalham com uma noção de democracia circunscrita e neutralizada, na qual a democracia não é do povo, não vem do povo e nem é pelo povo, mas é apenas supostamente em nome do povo”[11]. Ainda assim, esse é um movimento perigoso, uma vez que se fundamenta em uma crítica limitada do patriotismo em si, e permite que os mitos de origem aos quais ele apela permaneçam intocados pelas críticas da identidade coletiva e da exclusão colonial. Ao notar a necessidade de não branquear as injustiças raciais, de gênero e outras que foram parte do “evento histórico que criou este país”, Milstein só pode oferecer uma exortação genérica para “lidar com a relação entre essa opressão e os momentos liberadores da Revolução Americana”[12].
Dado que esse apelo é voltado a participantes não-anarquistas, há pouca ou nenhuma garantia de que tal luta poderia realmente acontecer. O sentimento patriótico ao qual se apela aqui é mais frequente do que um componente de uma narrativa nacionalista maior, que dificilmente participa de uma crítica decolonial (que, por si só, deveria ter muitas dúvidas acerca das raízes iluministas ocidentais que marcam as noções de cidadania e esfera pública). A celebração da democracia nos termos que invocam diretamente aos primórdios da política estadunidense pode acabar reforçando, em vez de questionar, a fidelidade ao Estado-nação que reivindica, ainda que falsamente, ser a portadora da herança democrática do período colonial. Isso é especialmente pungente no contexto das recentes ondas de mobilização, que revelam precisamente essa mistura de quintessência de meios de organização e ação influenciados por anarquistas, e discursos claramente patrióticos e nacionalistas — da revolução egípcia que abraça as forças armadas, ao sentimento jeffersoniano que impregna o movimento Occupy, até o nacionalismo absoluto da revolução ucraniana.

Há, realmente, uma razão para perscrutar essa questão, qual seja, a dos sentimentos democráticos e nacionalistas que foram expressos por movimentos pelos quais os anarquistas, de fato, têm boas razões para sentir certa afinidade. O mais proeminente desses são as lutas comunitárias em Chiapas, no sudeste do México, conectadas ao Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), e o movimento revolucionário em Rojava (ou Curdistão Sírio). Ambos não apenas empregaram a linguagem da democracia para expressar formas de sociedade descentralizadas e igualitárias, mas também para avançar uma agenda explícita de libertação nacional. O movimento curdo endossou Bookchin publicamente como uma fonte de inspiração. Isso significa que os anarquistas estão errados ao manter a solidariedade ativa com esses movimentos? Minha resposta é “nã o” — mas devido a uma diferença crucial que também reclama o argumento geral acima. Usar a linguagem da democracia e de libertação nacional não é mesma coisa para as minorias sem Estado no Sul Global e para os cidadãos de países capitalistas avançados, nos quais a independência nacional já é um fato consumado. Os primeiros não apelam para mitos patrióticos de origem engendrados por um Estado-nação existente, com seus privilégios e injustiças, mas a uma possibilidade de descentralização radical, diferente e não experimentada, que engendra uma “libertação nacional” potencialmente sem Estado. Certamente, isso carrega seu próprio risco, mas os anarquistas no Norte não estão em posição de pregar sobre esses assuntos.
Assim, nós voltamos ao ponto principal: ao menos para anarquistas nos EUA e no Oeste Europeu, a escolha de usar a linguagem da democracia é baseada no desejo de mobilizar e subverter uma forma de patriotismo que é, em última análise, vinculada ao establishment. Com isso, corre-se o risco de fortalecer os sentimentos nacionalistas que pretende minar. Os anarquistas sempre tiveram um problema de imagem pública. Tentar desfazer isso através de uma conexão com o mainstream democrático e os sentimentos nacionalistas é um risco que não vale a pena.

Uri Gordon é professor na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Nottingham, Reino Unido. Contato: uri.gordon@nottingham.ac.uk.
Notas:
- Pierre-Joseph Proudhon. What is Property?. Traduzido por Benjamin Tucker. New York, Humboldt, 1890 [1840].
- Pierre-Joseph Proudhon. The Philosophy of Poverty. Traduzido por Benjamin Tucker. Cambridge, Wilson, 1888 [1847].
- Mikhail Bakunin. Statism and Anarchy. Traduzido por Marshall S. Shatz. Cambridge, Cambridge University Press, 1990 [1873].
- Alexander Berkman. “Apropos” in Mother Earth Bulletin, 1.1, 1917. Disponível em https://libcom.org/library/mother-earth-bulletin (acesso em: 14/02/2017).
- Errico Malatesta. “Democracy and Anarchy” in The Anarchist Revolution: Polemical Articles 1924-1931. Traduzido por Gillian Fleming e Vernon Richards. London, Freedom, 1995 [1924].
- Martin Buber. “Society and the State” in Pointing the Way. Traduzido por Maurice Friedman. New York, Harper, 1957 (Reprinted in Anarchy, 54).
- Murray Bookchin. The American Crisis II. Comment 1.5. 1980. Disponível em http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/BookchinCW.html (acesso em: 14/02/2017).
- Murray Bookchin. “Radicalising Democracy (interview)” in Kick It Over, n. 14, 1985. Disponível em http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/raddemocracy.html (acesso em: 14/02/2017).
- Idem.
- Cindy Milstein. “Democracy is Direct” in Anarchism and its Aspirations. Oakland, AK Press, 2010 [2000], disponível em https://theanarchistlibrary.org/library/cindy-milstein-anarchism-and-its-aspirations.
- Idem.
- Ibidem.