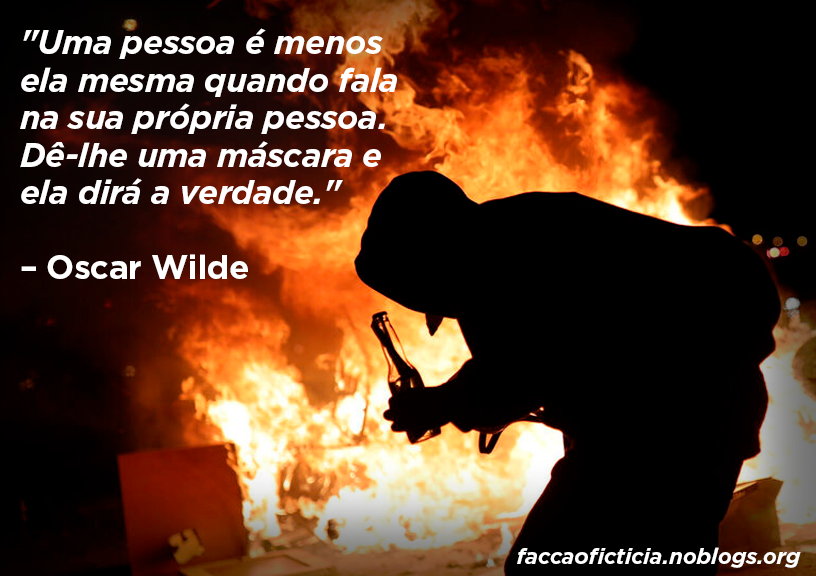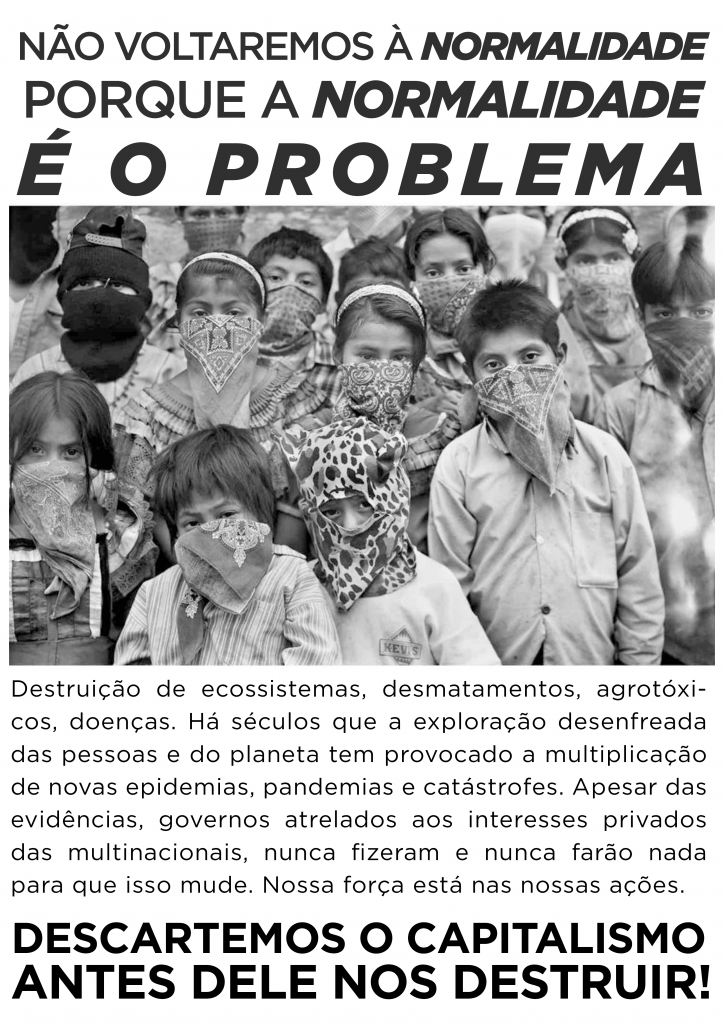Na semana em que as movimentações de torcidas organizadas e movimentos sociais tomam as ruas em várias cidades do Brasil, o movimento Antifascista como um todo toma projeção nacional. A relação disso com o que está acontecendo nos Estados Unidos após a morte de George Floyd é muito relevante. Quase 150 cidades estadunidenses se levantaram após o assassinato de mais um homem negro desarmado e rendido pela polícia diante das câmeras dia 25 de maio. No Brasil, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro tiveram protestos que conseguiram barrar e enfrentar os atos bolsonaristas que vinham tomando as ruas sem qualquer oposição das bases dos movimentos e partidos que se dizem oposição ao governo Bolsonaro. Por aqui, gritos de guerra homenagearam Floyd, mas também João Vitor e Rodrigo Ciqueira, assassinados pelas polícias cariocas, além da militante Marielle Franco, morta em uma emboscada tramada por milicianos ligados à família do presidente.

Em reação ao povo na rua Trump divulgou uma mensagem dizendo, mais uma vez, que quer criminalizar o movimento Antifa como “terrorista”. Obviamente que seu capacho latinoamericano, Bolsonaro, compartilhou essa ideia em sua conta no Twitter. É importante saber o que significa governantes tentarem criminalizar movimentos que basicamente se opõem ao fascismo e quais os possíveis desdobramentos dessas políticas. Por isso, traduzimos e compartilhamos o artigo de Mark Bray, camarada, estudioso e militante antifascista.
Em qualquer canto das Américas, o recado está dado: não vamos tolerar os avanços do fascismo e do populismo, nem mais mortes pelas mãos da polícia (a instituição mais fascista que caminha sobre esses solos) e as ruas, não pertencem àqueles que fazem “protestos à favor de governos” e fazem o trabalho sujo de gangues que a polícia (ainda) não é capaz de fazer diante das câmeras. Seguiremos tomando as ruas com as bases, com as torcidas mesmo quando partidos e movimentos tradicionais sequer esboçam qualquer coragem de se juntar a nós.
As ruas são nossas e essa luta agora tem dois lados!

ANTIFA NÃO É O PROBLEMA – A Falação de Trump é Uma Distração Para a Violência Policial
por Mark Bray




Mark Bray: é historiador especialista em direitos humanos, terrorismo e radicalismo político na Europa Moderna. Foi um dos organizadores do movimento Occupy Wall Street em 2011 e seu trabalho é referência mundial no debate antifascista.
Mais materiais:
CINCO LIÇÕES HISTÓRICAS PARA ANTIFASCISTAS – artigo e zine para impressão.
Resistência Antifascista: o Legado Histórico e as Práticas Atuais – debate com Mark Bray, Acácio Augusto e Crimethinc. na Flipei, 2019.
Resistência Antifacista: Legado histórico e as práticas atuais – debate Mark Bray, Vanessa Zettler e Acácio Augusto, na livraria TaperaTeperá, 2019.
Somos Todos Antifascistas – Menos a polícia – artigo e zine para impressão.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/N/z/NlKv2oSGOIg1YxzjF9VA/2020-06-01t025851z-429823109-rc220h98isaa-rtrmadp-3-minneapolis-police-protests.jpg)